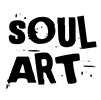Foi o poeta Vinícius de Moraes que disse: “Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa de triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado”. Se alguma vez na vida realmente entendi esse conselho, foi quando me apaixonei pelo Soul – e por ele fui acolhido. Ao ouvir a tristeza cantada, já não era mais sozinho. “Bem aventurados os que choram, pois serão consolados”!
Primeiro vieram Tim Maia, Cassiano e Marvin Gaye. Mais tarde Al Green, Otis Redding, Sam Cooke e James Brown. Conheci Stevie Wonder, Etta James, Curtis Mayfield, Isaac Hayes e Isley Brothers. Rodei sebos e blogs em busca dos clássicos e das raridades. Muitas vezes imaginei como teria sido viver nesta época de ouro da música. Mas não por saudosismo – não completamente. Embora aprecie algumas coisas deste século, como Mayer Hawthorne, Sharon Jones, Amy Winehouse, e coisas do gênero, sempre senti falta de um clima qualquer presente apenas na velha guarda do estilo. Cheguei a pensar que não se sofria mais como antigamente.
Foi quando, de uma vez só, conheci a violência de Charles Bradley e Lee Fields, dois veteranos do soul que, por caprichos da vida, experimentam seus auges só agora. Diamantes brutos, lapidados pelos anos, à espera do dia em que seriam descobertos – negros dramas, vindos da lama, como nos versos dos Racionais. Processo que pode ser percebido em cada grito de dor de Lee e de Bradley, o alívio da voz que finalmente veio à tona, o despertar atônito de um longo sonho.
A história de Charles Bradley daria um bom filme, embora pareça ter sido montada por um roteirista sem simpatia alguma pelo protagonista. Aos catorze anos de idade, levado por sua irmã, foi ao Harlem assistir a um show de James Brown, onde nasceria o sonho pelo qual viveu daquele dia em diante: cantar. As dificuldades e os problemas familiares o levaram a morar nas ruas, e a trabalhar como engraxate e cozinheiro de pequenos restaurantes. Quando as oportunidades apareciam, Bradley, já adulto, se apresentava em clubes cantando músicas do Rei do Funk, com os mesmos trejeitos e afinações. A vida não o quis cantor, e quando acordou, tinha quase sessenta anos.
De volta ao Brooklyn, a convite de sua mãe, Bradley começou a se apresentar como cover de James Brown, sob o nome de Black Velvet. Na mesma época, perdeu seu irmão mais velho tragicamente, assassinado pelo próprio sobrinho. Para acrescentar uma dose de dor física à sua depressão, enfrentou problemas de saúde que quase o levaram à morte. Quando o destino parecia não permitir mais esperança, Bradley foi descoberto por Gabriel Roth, da Deptone, e gravou seu primeiro disco, acompanhado pela The Menahan Street Band. No Time For Dreaming (2011) é o apogeu desse grande conto urbano. Para Charles Bradley, apenas o início.
Lee Fields também conhece a longa espera pelo auge. Nascido e criado no estado da Carolina do Norte, com mais três irmãos, Lee passou a adolescência cantando em igrejas, vivendo a tradicional “categoria de base” do soulman. No final dos anos de 1960, começou a se apresentar com algumas bandas, chegando a fazer parte do lendário Kool and the Gang. Lançou seu primeiro disco solo em 1973, intitulado Problems, que se tornou uma raridade muito procurada por colecionadores do estilo. Mas ficou nisso.
Em comum com Charles Bradley, Lee sempre levou sua grande admiração por James Brown para os palcos (semelhança que pode ser percebida em Problems), marca que lhe rendeu o apelido de “Little J.B”, ou “Pequeno James Brown”. O que me lembra um dos principais momentos do filme Ray, biografia encenada por Jamie Foxx, onde Ray Charles ouviria uma frase decisiva em sua carreira: “Ray, ninguém precisa de mais um Nat King Cole. Você tem que fazer alguma coisa diferente, tem que cantar como você mesmo”. Ninguém precisava de mais um James Brown.
A frase dita pelo empresário de Ray Charles ao jovem cantor foi dita à Lee Fields pela vida, e ambas surtiram o mesmo efeito – embora de maneiras diferentes. Ao ser descoberto pela Truth & Soul Records em 2009, já perto dos 60 anos de idade (como Bradley), Lee estava pronto. Seu primeiro registro com a nova gravadora, My World (2009), traz o cantor em seu melhor momento, brindando-nos com um soul fluido e moderno, sem deixar de transparecer o peso emocional adquirido com os anos.
Não pretendo recriminar aqueles que, como eu, sofrem com uma certa predileção pelo antigo. Entretanto, é urgente descobrir Lee Fields e Charles Bradley, e presenciar a história acontecendo aqui e agora. Faithful Man (2012), de Lee, é um dos melhores discos de soul desta década, e tem tudo para ser lembrado pelas próximas gerações com a mesma nostalgia que sentimos hoje pelos discos de 1970. Da mesma forma, No Time For Dreaming, revela para o mundo um soulman que sofre como James Brown, encanta como Sam Cooke, e emociona como Marvin Gaye – mas que está vivo! Espalhe a notícia para todos aqueles que têm coração. O soul está vivo, e mais vivo do que nunca.
[popup_anything id="11217"]