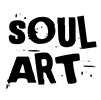Assim começa a história de Kehinde que nos narra sua saga nas quase 1000 páginas do romance histórico “Um defeito de cor” da escritora Ana Maria Gonçalves. Não se assuste com a quantidade de páginas, a leitura é fluente, em primeira pessoa, contada por Kehinde (que terá que adotar o nome de Luísa ao chegar ao Brasil, após ser trazida brutalmente da África juntamente com outros africanos de diversas tribos) e que nos conta um período muito triste do nosso país, a escravização desses povos pelos portugueses.
Ana Maria Gonçalves criou Kehinde/Luísa inspirada em Luísa Mahin que, segundo a autora, “uma mulher que é lenda na Bahia, mas de quem não consegui confirmar a existência e sobre quem não se sabe muita coisa. Dizem que ela pode ter sido inventada pelo poeta Luís Gama, filho de um fidalgo português e de uma escrava baiana. A mãe desapareceu quando ele tinha por volta de sete anos e ele foi vendido pelo pai, aos dez, para quitar dívida de jogo. Dizem que ele pode tê-la inventado como uma mulher forte e uma das principais articuladoras da Rebelião Malê para dignificar um pouco o próprio passado.”
A pesquisa inicial era sobre esta Rebelião Malê, que foi um movimento na Bahia liderado por negros escravos muçulmanos que lutaram pela conquista de liberdade, o fim do catolicismo e a implantação de uma monarquia islâmica no Brasil. Mas que, por Serendipidade (ao acaso) como diz Ana, acabou encontrando manuscritos da história ou da lenda que estavam prestes a ser destruídos por um garotinho que fazia desenho nos papéis encontrados numa igreja em Salvador, e o resto seria jogado fora pelo padre.
“Dormi e sonhei com Savalu, com a minha mãe dançando no mercado, com a Taiwo sorrindo, com a minha avó contando histórias e fazendo tapetes, com o Kokumo pescando no rio, e tive saudades de África, mesmo sabendo que eles não estavam lá. Eu tinha ficado comovida com a atitude do Lourenço, que queria me dar uma família livre, pessoas de quem eu pudesse gostar para sempre, sem medo de sermos separados de uma hora para outra. Naquele momento, e durante toda a vida, tive que lidar com duas sensações bastante ruins, a de não pertencer a lugar algum e o medo de me unir a alguém que depois partiria por um motivo qualquer.”
Apesar da profunda pesquisa e trabalho de quatro anos de Ana, o livro não tem o comprometimento total com os fatos históricos, é um romance que se baseia nas histórias do século XIX que, dentro da oralidade narrada por Luísa, conhecemos um lado íntimo de uma personagem que interpretou seu tempo, seu sofrimento, suas alegrias, a busca pelo filho, as mudanças sociais e políticas, a manutenção de suas tradições africanas, a revolta, e os detalhes de como os negros foram tratados como meros animais servis aos seus donos. Com toda a sensibilidade feminina, o texto emociona em diversas passagens, sendo impossível não se envolver com a percepção inocente mas esperta da criança ou da mulher que precisa sobreviver num ambiente hostil e que necessita de sua força para continuar a viver para algum dia voltar à sua terra-mãe, onde era livre. Para a nossa realidade, seja descendente ou não desses africanos, a compreensão de que é sempre melhor falar, revelar, discutir e expor, do que se calar diante do preconceito racial que, de uma maneira ou de outra, existe espalhado pela nossa sociedade com outras caras, mais sutil e invisível, principalmente quando dizem que todos são iguais e que a cor não importa, o que é uma falácia, somente existe igualdade quando se conhece a diferença e a respeita. Por isso, qualquer movimento social que crie discussões para que se alcance a verdadeira igualdade política é totalmente válida. Que progresso fariam os movimentos homossexuais, os femininos, os indígenas se eles tivessem se calado e que ainda encontram suas dificuldades? Os negros, negligenciados pela grande mídia, também têm direito a expor as fraturas de uma sociedade preconceituosa e excludente. O Dia da Consciência Negra vem para mostrar que essas pessoas não são transparentes e silenciosas como a sociedade branca e influente quer que sejam, é um dia válido para quase metade da população, mesmo sendo um dia tratado como feriado facultativo, o que mostra a “seriedade” como este debate é levado pela sociedade.
Para completar, a escritora explica o que vem a ser o título “Um defeito de cor”, na entrevista para o site da Editora Record:
“No período colonial havia uma lei, entre as muitas outras leis segregacionistas, que impedia que negros e mulatos ocupassem cargos civis, militares e eclesiásticos, reservados aos brancos. Quando o talento, a competência ou a vontade eram muito grandes, o negro ou mulato podia pedir a “dispensa do defeito de cor”, que foi concedida, por exemplo, ao padre mulato José Maurício, um dos mais importantes musicistas e compositores coloniais brasileiros. Ele apenas pode se tornar Mestre da Capela Real e responsável pela música sacra que lá tocava depois de dispensado do defeito de que padecia.”[popup_anything id="11217"]