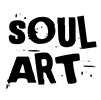Ouvi falar da premissa de Nomadland, adaptação de um livro de não-ficção (Nomadland Surviving America in the Twenty-First Century), da jornalista Jessica Bruder, por Chloe Zhao. Trata de americanos que ao perderem as casas hipotecadas durante a crise das bolhas dos bancos, se viram desde então obrigados a morar em trailers e carros adaptados, viajando ao longo do território atrás de sub-empregos mal remunerados, provisórios, precários e sem garantias.
Também por outros que, aposentados ou desiludidos com a sociedade, “optaram” pelo nomadismo. O antissonho americano, o império dos loosers que elegeu Donald Trump com a promessa do Make America Great Again. Frances McDormand estaria (e está) no papel principal: ela é Fern, uma recém-viúva falida tentando sobreviver no cenário que descrevi.
Assim, achei que assistiria em Nomadland mais que a constatação do naufrágio dos sonhos de grandeza estadunidense, uma crítica à Globalização, às políticas neoliberais e, principalmente, ao Capitalismo.
Sim, temos no filme o espelho dos EUA atual, com o sonho americano convertido em pesadelo e a coisificação do sujeito – via “trabalho”, – instrumento máximo de desumanização.
Nomadland é tudo isso, e ao mesmo tempo um filme político, que flerta com o existencial, na medida que o que flagra é a capacidade de adaptação do humano às adversidades, e seu poder de resgatar sua humanidade por meio das relações sociais, da amizade. O afeto se dá pela solidariedade entre iguais, muitos desvalidos, repletos de perdas colossais, mas que resistem. Não maldizem a América, não são ressentidos, mas saudosos de um tempo perdido, nostálgicos de um fio de esperança. A suplência afetiva vence assim a revolta, o ressentimento e a indignação social.
A protagonista Fern, ao contrário do que ocorreria se o filme fosse brasileiro, não se constitui uma metáfora/alegoria da América. Ela é individualizada por McDormand, tem camadas, passado, tensões, contradições. Interessante pelo fato de Fern ser uma construção ficcional, enquanto muitos no filme sejam gente real, não atores alguns que serviram de base (com seu depoimento) para o livro original.
Fern existe como pessoa, ontologicamente. Ela não se quer vítima do sistema (embora seja), e sem autocomiseração, na carência extrema, age como se sua vida atual fosse realmente fruto de suas escolhas, de uma determinação pessoal.
Mas a vida nômade retratada pela diretora sino-americana Chloe Zhao, nada tem de aventurosa. É cheia de precariedade, de melancolia e estilhaços (metaforizado no prato de porcelana do enxoval de casamento dado por seu pai, motivo de orgulho, e que irá se espatifar numa ação banal, para ser caco a caco recolado por ela).
Nomadland é um filme contemplativo, de planos e travellings longos, para valorizar os silêncios, trazer evocações. Há muito de estilo documental na direção de Zhao. As falas prosaicas, os tipos comuns, garotos desgarrados, vadios boa praça, muitos velhos. Quem habita a paisagem que se impõe são efêmeros mortais, uma gente sempre à mercê do clima, das oportunidades de trabalho, das condições mecânicas de seus veículos.
A vida pregressa de Fern nos é dada em pedaços, objetos evocam sua história: são fragmentos/restos/memória de uma vida mais estável. Nada agora lhe é permanente: falta steps no carro sempre em ruínas, ate os desgarrados amigos que encontra no caminho se vão perdendo ao longo do caminho. Nós espectadores, que achamos lindos jovens em mochilão sabático, constatamos o horror que é envelhecer sem segurança num Estado sem garantias.
A paisagem ampla, descampada e de horizontes deslumbrantes é indiferente aos sem saída. Por ali eles vivem de vendas e permutas de restos acumulados de suas antigas vidas, da coletra de pedras/cristais, colares hippies, trabalhos artesanais, venda de cafezinhos. Acampados em torno de fogueiras, contam histórias, evocam mortos, narram-se. E o filme vai se compondo de depoimentos vagos, fragmentos, imagens soltas, memórias, perdas, ausências, vácuos, resignação.
Os nômades do século 21 já nada controem, vivem de remendar seus carros-casas, dar uso de privada a tambores. Se não produzem, não servem à máquina de produção e consumo, são matéria de descarte: a família que os ampare.
Sem chão, são todos desvalidos, sem perspectiva: mães solos, viúvas, aposentados adoecidos, solitários, todos ciosos de sua dignidade. Não se reconhecem como gente em situação de rua. Por isso, só excepcionalmete, se reunem em paróquias para refeições coletivas. No filme, seguem um guru/mentor que tenta orientá-los legalmente, além de fazer discursos para que se sintam “integrados” a uma comunidade; quando, de fsto, são desgarrados, excluídos e imersos numa imensa solidão.
Tudo isso está no belo e tristíssimo Nomadland. Mas o que me espanta (e decepciona) é o quanto tira o peso do da responsabilidade do sistema político social americano, do Estado. Não há uma palavra contra o capitalismo predatório, tudo parece sempre repousar exclusivamente no indivíduo, se há derrocada de seu destino, isso se faz pela escolha.
O amparo da família se faz presente, contudo, a protagonista se constrange de ser vista como fracassada. Recusa pelo menos duas vezes se esrabelecer numa casa. Mas seu passeio final na casa em que a antiga “empresa” cedia aos funcionários, – portanto, a ela e o marido, sao escombros, uma vila fantasma de casas abandonadas e em escombros. Essa vida mostra o quanto sua vida estava atrelada à industria e ao sistema de produção. Falida a empresa, morre a comunidade e o modo de vida, já que capital e existência ali são uma coisa só.
Não compro esse discurso de meritocracia. O Império atualiza as formas eternas de servidão e descarte das mãos de obra. Sem perspectivas estão todos ali, por que alienados num unico modo de entender a vida: trabalho árduo e acesso ao consumo, a natureza como consolação final para os soltos a sorte, sem emprego fixos, ou já velhos, com pensões irrisórias e cuspidos pelo sistema. E no fundo, o que o filme não faz é jogar na cara dos americanos essa verdade dura demais para os que creem cegamente na ideia de mérito da “terra das oportunidades.”
Neste sentido o filme ilustra, sem questionar de fato, sem revelar, sem iluminar epifanicamente o espectador. É o constatar da vida daqueles outros que, graças a Deus, nao somos nós. O filme nao é apaziguador, contudo, documenta sem questionar, sem achar soluções. É um filme sem indignação. Ouso dizer que é um filme de resignação.
Nada disso anula, no entanto, a grandeza da interpretação da Frances McDormand e David Strathair.
(Assistindo, só conseguia pensar que por mais atriz que Merryl Streep seja, jamais poderia fazer esse papel, pois hoje sua persona anula a possibilidade de “verdade” humana. Por isso, Merryl hoje só consiga interpretar caricaturas de gente, figuras proeminentes mitificadas, ou personagens dramáticas de papel, bastante teatrais.)
Já a estupenda Frances MacDormand simplesmente desaparece em sua protagonista. Nunca é uma atriz, é a pessoa vivendo. Frances pode baixar as calças e urinar na areia do deserto, se compadecer da dor do outro só no olhar, sem palavras de consolação, ou usando as mais óbvias, pois assim fazemos quando realmente não há nada a se dizer. Ela está inteira em cena, vemos sua luta, mas não a penetramos de todo, pois ela é sólida, estruturada, uma pessoa de verdade com sua casca dura, suas teimosias, seus dramas interiores e seus mistérios.
Nomadland é um documento, uma imagem precisa da beleza geografica dos EUA, seus desertos, seus quênias, calor e gelo intenso. Um dos maiores filmes de 2021.
[popup_anything id="11217"]