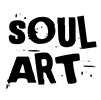451 Fahrenheit é a temperatura na qual os livros pegam fogo. Esse é também o nome do livro de Ray Bradbury, lançado em 1953, que viraria filme treze anos depois. A obra conta a história sombria de um mundo onde os livros eram queimados para que não despertassem o descontentamento na humanidade. Os vilões de capa dura e coração de papel seriam os responsáveis por tornar os seres humano antissociais, incapazes de serem complacentes com a futilidade e com as incoerências da sociedade vigente.
A ideia central do livro é uma ampliação da Grande Queima de Livros, realizada pelo Partido Nazista em 1933. À época, a organização do Terceiro Reich alegava querer purificar a literatura alemã. O holocausto começaria pelo incêndio e terminaria nas câmaras de gás.
Exceto os nazis da Alemanha dos anos 30 e 40, o Poder costuma ser muito mais sutil na sua maneira de manter a hegemonia de pensamento. No Brasil, por exemplo, não se queima exemplares de livros, nós simplesmente os ignoramos. Mesmo porque, em 124 anos de República, não houve rupturas bruscas de pensamento que precisassem da extinção sumária de livros. Sempre sofremos com os mesmo tipos de poderosos.
No nosso país vivemos, ao longo dos anos 1900, uma realidade muito mais Orwelliana, pautada na estratégia do duplipensamento, como o autor inglês sabiamente descreve em seu clássico 1984, onde o Poder simplesmente desmente, de maneira convincente, o que ele mesmo disse no dia anterior. Ao sair um pouco do transe desse pensamento esquizofrênico, podemos notar, como Platão saindo da caverna, que mídias e governos elitistas trabalham para jogar as grandes histórias da humanidade no limbo do esquecimento.
Só o que nos é apresentado no dia a dia da televisão e das mídias integradas é a história deturpada contada pelos vencedores. As escolas não dizem quem foi Zumbi dos Palmares. Sabemos mais sobre o antigo Egito e sua sociedade morta há mais de 2 mil anos do que sobre a história dos negros no Brasil, sobre a Revolta dos Malês e outras tantas insurreições de escravos durante o Brasil Colônia, que estão a menos de 150 anos dos nossos dias.
Quem escreveu a história do mundo contemporâneo se não exatamente os opressores? Num livro didático brasileiro clássico não é só o idioma que é euro-caucasiano, mas os interesses também. Saindo das fronteiras tupiniquins, o que sabemos sobre Rosa Parks, Pancho Villa? Ou, o que sabemos de verdade sobre os nomes e rostos famosos de Che Guevara e Malcolm X?
George Orwell diz em sua obra anteriormente citada que “quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado”, dizeres repetidos na intragável letra de Testefy, da banda estadunidense Rage Against The Machine. Baseados nessa ideia, nazis queimavam livros, ditadores brasileiros vetavam obras insurretas e os EUA enforcam as aulas de Geografia e História do Mundo na High-School.
Hoje, mais do que nunca, absorvemos uma idolatria de nomes e feitos efêmeros, seja no esporte, na música ou em qualquer programa de televisão, em detrimento do conhecimento histórico verdadeiro e do reconhecimento aos seus personagens. Na era da informação, paradoxalmente, a história vai se apagando da memória da massa. Enquanto isso, guerras voltam a ser forjadas em busca de poder, como se Hiroshima, Vietnã, Ruanda, Iraque e Palestina nunca tivessem existido para nos dar uma lição.
A repressão do saber no século 20 foi gerada na Alemanha nazista, despertou a imaginação de grandes autores de ficção e voltou à realidade sob as asas dos atuais governos, chamados, de maneira incompreensível, de democráticos.
Sob todas essas tramas, as apoteoses populares da história são jogadas às sombras. Revoluções e líderes populares são soterrados para dar espaço às histórias que consumimos em nossas televisões, cinemas, museus e dentro da escola. Para que enxerguemos o fim do túnel dessa nossa história, devemos, primeiramente, iluminar o seu início.
[popup_anything id="11217"]