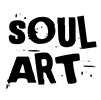Fotografia por Mek
“Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.” (Carl Jung)
— Valtinho?…
— Ãh?…
— Você ouviu o que eu disse?
— … Claro. Quer dizer,… desculpa. É que eu me distraí!…
— Você parecia longe…
Na verdade, eu estava bem ali mesmo, diante do meu amigo Guilherme, ouvindo… quase tudo. Perder qualquer coisa que ele dissesse era um desperdício. Apesar de muito jovem, aquele garoto tinha sempre inteligências parar dizer. Mas é que havia alguns segundos, sentara-se bem diante de mim uma figura muito, muito… intrigante.
Era uma velha senhora, uns 70 anos, talvez. Estava acompanhada de outra mulher mais nova que tomei por filha, toda cuidadosa, amparando a anciã.
A parede de vidro à nossa frente, separando a área externa do café, onde estávamos, do espaço interior onde as duas se sentaram era muito próxima, mas não o suficiente para permitir que se ouvissem as conversas de um e outro ambiente. A visão, entretanto, era perfeita. De súbito, o vidro transparente lembrou-me aquele fino tule que separa os vivos dos mortos, deitados, sem estar onde parecem.
A julgar pela atenção e cuidados que a acompanhante dispensava à velha, era de se supor que aquela pessoa tão antiga tinha comprometidos seus movimentos, sempre tão lentos e custosos.
A roupa parecia ter o conforto e quentura de que os muito velhos gostam: um moletom claro de um rosa pastel. A despeito do que podia sentir, permanecia sentada com a mesma elegância a juventude que um tida tivera imaginei. Os cabelos eram curtos e de um cinza descorado, mas corajosamente naturais. As bochechas redondas e pálidas. Nada de novo numa velha, admito, até aqui. Mas os olhos, meu Deus, como podiam dizer daquela forma!…
Um olho quase fechado, com daqueles rastros indisfarçáveis deixados nas pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral. O outro, levemente aberto, quase sumido numa discrição barulhenta. Uma cor indefinida, perdida na sombra, alcançou-me num instante me esbofeteou o espírito com energia. Não. Não, não eu não conseguia saber o que me dizia.
Sob a luz exata de uma lâmpada de led,, a velha, despojada de tudo, aprisionada naquele corpo desobediente extrapolava seu ser imenso. Pegava um pedaço de pão e o levava até a boca com vagar. Lentas mastigadas de alguém que já aprendeu as malícias do tempo, deixando espalhado sobre mim aquele resto de olhar de gângster, inquisidor. Havia deboche nele, desdém, ousadia… Considerei que se lhe perguntasse diretamente: “Por que a senhora me olha assim?”, ela me dissesse com a segurança que um dia eu também hei de ter: “Porque eu quero.”
O meu olhar para ela era de um cão – total submissão diante de um homem. Assustado, acovardado, ia fugindo o quanto podia. E deve ter sido justamente quando saboreava as descobertas do meu jovem amigo acadêmico acerca das inquietações de Foucault: do sujeito e do poder, da arqueologia do saber, que me distraí e deixei a velha sumir-se sem que eu visse. Foi-se embora a insolente, a atrevida, a poderosa dona de si.
Dois dias passados e, é claro, eu de nada mais me lembrava. As sutilezas da vida têm o tempo do tapete deixado pelas folhinhas da sibipiruna no chão: “o vento varre tudo.” Seguia absorto, atravessando a cidade para almoçar no restaurante vegetariano. À parte todas as vantagens da “comida saudável, sem proteína animal e amiga da preservação ambiental”, eu buscava exemplos antes de comida. Gostava de ver os frequentadores: uma calma, as pessoas comendo o agora, deixando o amanhã lá fora. Tem gente tão sábia que sabe até comer!…
No caminho, na Rua Ricardo Vilela, ainda longe, vinha uma senhora, andando com dificuldade. Apoiava-se numa daquelas bengalas cuja ponta se divide em quatro outras menores. Na outra mão, uma sacola de supermercado toda amassada a que a velha se agarrava. Não tive dúvida, era a Dona Cidinha, da ETEC. Era uma pessoa muito simpática, dessas senhorinhas com um sorriso sempre pronto, esquecido no rosto luminoso e compadecido. Os olhos eram de um azul encantador. Sempre dizendo das galinhas que criava, dos pães caseiros que ela mesma fazia.
Já era idosa então naquela época, mas cheia de dignidade. Entretanto, a mulher tão frágil que se aproximava, em pouco lembrava a do passado. Era uma daquelas pessoas… sem perfume. Quando cruzou por mim, houve uma pausa, percebi, então, que também tinha um olho parcialmente comprometido: cortina fechada para o espetáculo azul, lamentei sozinho. Ela não me reconheceu. Talvez essa minha barba branca, talvez a vontade de se desvencilhar de acasos, talvez… Foi um momento apenas. Julguei que se me dissesse algo, talvez fosse: “Me deixa passar…Já está tão difícil!…”
Olhou-me de baixo, como se ela fosse um cão. E eu a deixei passar, deixando aqueles laivos de lágrimas pelo caminho.
Segui meu caminho querendo crer no longo tempo que economizara em não me deter naquele encontro, cumprimentando aquela velha abatida. No quanto perderia, se tivesse parado e apertado aquelas mãos cansadas e abraçado aquele corpo fugidio e dado ao encontro nossas almas iguais, nossas vidas iguais, no quanto havia sido lépido e esperto em me… camuflar.
Talvez me roubasse alguns segundos para me dizer de suas tragédias, talvez me contasse das galinhas que já não tinha, ou dos pães que ainda fazia, talvez pudesse me acompanhar num riso de perdão, talvez me desse todas essas pequenas grandezas… azuis!…
Senti-me muito mal, quando me ocorreu o conto Angústia de Tcheckov, em que o cocheiro só queria poder dizer – a qualquer um! – do episódio do filho morto, sem que ninguém, ninguém quisesse ouvir… Logo depois, deixando a arrogância de lado por um tempo, pensei que, talvez, pudesse eu lhe dizer dessas coisas que vão morrendo dentro da gente, mas que não dizemos, a não ser para pessoas desarmadas feito ela.
…
Em muitas vezes as pessoas nem olham para nós. Olham apenas em nossa direção. E isso só nos lembra de quem somos. Ou queremos ser…
Nós é que olhamos. Só nós… sós nós.
“Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são.” (Carl Jung)
[popup_anything id="11217"]