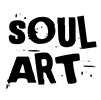Foto: Andre Vicentini | Texto: Robson Alkmim
Brincávamos com nossas pequenas formas e achávamos que éramos seres ilimitados. Nossas carnes arranhadas, nossos ossos emborrachados, nosso fôlego para correr, correr, correr e chegar a qualquer lugar, só como teste, só para ver se seria possível fazer mais do que ontem e sentir orgulho ou medo de crescer.
Esses corpinhos tinham a necessidade de tocar. Passar a mão sobre o pelo de um cão, pisar na grama molhada após uma chuva fria, roçar as costas num tronco de árvore, deixar a pele ser queimada pelo sol, sentir o calor de uma lâmpada acesa, apertar uma bola de borracha e descobrir que não tinha força suficiente para esmagá-la. E elas quebravam muitas coisas, até aprenderem que o que foi destruído quase nunca é recuperado.
Enquanto isso, elas sentiam as fragrâncias da vida, boas ou ruins, doces ou picantes, que se tornariam memória de momentos encobertos com panos brancos, associações automáticas reveladas pelo cheiro do peixe recém-pescado, à beira de um lago, onde o pai anunciava o fim do casamento… vai ficar tudo bem, é melhor assim. Ou o perfume que a mãe passava antes de levá-lo à escola, onde, na entrada, aquele colega fétido o esperava para a sessão de distribuição de sopapos na orelha quando a mamãe ia embora! E ficava em silêncio, aguentando tudo com os punhos cerrados. Mas tinha o forte cheiro do bolo de chocolate da vovó, que infestava a casa toda, em todos os aniversários comemorados para ele; o chocolate associado aos presentes que ganhava, brinquedos que não durariam muito, roupas logo apertadas no corpo. Mas pelo nariz se aprende a primeira metáfora: “Não meta o nariz onde não é chamado!”, enquanto perguntava para a mãe sobre o aquele homem viera fazer em casa.
O que entra no quadro daquilo que se fala e se ouve. “Esse menino fala pelos cotovelos”, nova metáfora. “Aquela menina é uma metralhadora, e a irmã, uma múmia”. Aqueles pequenos barulhos inadequados, engraçados, o riso solto, o grito, o berro, o escarcéu quando estavam em bando. Eu te odeio, eu te amo, coisas que se aprendia a dizer e pouco entender, ou pior, nem sair da boca. E o mundo era tão barulhento que era preciso ouvir, prestar a atenção, de onde vem o pio do pássaro, para onde vai a sirene, ninguém me chamou, não ouvi o sinal. Dissimulava, escapava, mentia, seduzia. A música que os pais ou avós ouviam ficaria para a vida toda, como a música do programa de televisão ou do comercial, a musiquinha da escola, os hinos na Copa do Mundo, seu pai xingando o juíz, oba, um novo palavrão gratuito! Caralho, gritava a plenos pulmões! “Que isso menino, tá boca suja, aprendeu com quem?”. Ninguém ouvia ninguém, lição tardia.
E as cores se multiplicavam, queria saber o nome de todas, combinar azul e verde, preto e branco, rosa e amarelo. As borboletas, os carrinhos de plástico ou de ferro, os pipas, a caixa de lápis de cor novinha, com 36 cores, morria ao ver a de 72, que o pai dizia não ter dinheiro para comprar. A cor laranja da própria casa, a roxa do vizinho, a vermelha da esquina, o negrume da casa assombrada, o cinza do asfalto que passava em frente a todas as casas. A cor como medida da extensão da cidade. O pigmento de sua pele, de seu cabelo, de seus olhos, e a comparação com os outros, o preconceito recém-adquirido, a vontade de ser como o outro. A cor como negação ou aceitação, medidas injustas.
Mas entre lamber um tijolo e chupar um pirulito havia uma gama infinita de sensações inexplicáveis. Quem nunca passou a língua no próprio sangue após um machucado e descobriu o amargo que corre pelas artérias? As faces de prazer no que satisfazia, e as de nojo ao que desagradava. A cenoura não, o salgadinho sim, batata frita oba, a beterraba nem a pau, hamburguer uhu, salada eca, bolacha-de-chocolate-com-recheio-de-morango-babando-de-prazer-tendo-orgasmos-múltiplos-entre-os-lábios! E a cara de desespero da mãe, que também tinha seus paladares próprios quando criança, porque a criança disse não e o prato continuava remexido e cheio. Comer ou não era a nossa afirmação de personalidade: Boa menina, obediente e orgulho do papai… – ou – Não vai comer, que criança triste, como você quer ser alguém na vida desse jeito?
A criança é um bichinho, vai se sujar até aprender a não se sujar mais, o que pode levar a vida toda. Os brinquedos mudam, mas a criança fica encravada em nossa consciência. Se você não sabia lidar com as pessoas quando pequeno, provavelmente, agora, também não leva muito jeito. Se gostava de ser o palhaço da turma, hoje ainda gosta de contar piadas, nem que sejam ruins. Se tinha necessidade de ficar perto dos pais o tempo todo clamando por proteção, hoje deve mendigar amor. E esse corpinho louco crescido, cheio de lacunas, gostaria mesmo de correr para qualquer lado para alcançar o vento, falar sobre desejos ocultos, explorar as possibilidades da língua sem a preocupação da coagulação futura, ser cuidado por braços envolventes, chorar sem ser ridículo, colorir a existência com cores de menino e de menina, foder as regras e derrubar as tradições opressoras, e mesmo assim não ser considerado infantil, um corpo de herói e bandido, simultâneos.
É impossível possuir um corpo e não reviver as sensações da nossa criança.
[popup_anything id="11217"]