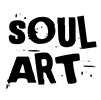Neste texto sobre Charles Mingus não é vergonha admitir: não entendo nada de jazz. Não que eu não tenha tentado. Antecipo para quem tiver a resposta clichê na ponta da língua: sim, eu já ouvi muitas vezes o Kind of Blue do Miles Davis e o A Love Supreme do John Coltrane. Gostei, mas não entendi. Como o filme francês que vi na primeira vez que fui à Cinemateca. Os mais subjetivos me respondem subjetivamente que o jazz não é pra entender, é pra se sentir. Essa resposta nunca me serviu. Como exaltar a genialidade de Miles, Coltrane, Herbie Hancock e Chet Baker se nunca consegui chegar ao nível mais profundo de sua inspiração?
Acostumado a ser arrebatado pela obra de meus artistas preferidos, Cassiano e Jorge Ben, admirar alguém pela quantidade de notas em um solo não me parecia o bastante. Talvez os refrões e as melodias fáceis tenham deixado meu ouvido preguiçoso demais para entender o jazz. Experimentei Charlie Parker, Donald Byrd, comprei no centro da cidade o vinil do Dizzy Gilespsie – nunca ouvi. A sensação sempre foi boa, mas nunca transformadora. Ouvir um disco inteiro de jazz ainda se parecia com estudar matemática. Talvez ainda faltasse entre eu e o jazz o encontro descrito ao final da história bíblica de Jó, que diz para Deus: “antes eu só ouvia falar, mas agora eu te conheço”.
E um dia ele veio. Mais precisamente há duas semanas. Não me lembro de como cheguei até lá, mas foi com uma lista de uma revista qualquer sobre os 10 maiores discos de jazz de todos os tempos. No topo estavam o Kind of Blue do Miles Davis e o A Love Supreme do John Coltrane. Fugi do óbvio e resolvi começar a lista de cabeça pra baixo. Lá estava no décimo lugar a obra-prima, segundo a descrição, do baixista e compositor Charles Mingus. O nome de Mingus não me era estranho, já havia ouvido a faixa Moanin em um passado distante e gostado. O texto dizia que o próprio músico descrevia o disco em questão, The Black Saint and The Sinner Lady, de 1963, como “música autêntica com muitos dos meus significados. É o meu epitáfio vivo do nascimento até o dia em que ouvi falar pela primeira vez de Bird e Diz”. Por intuição comecei a ouvi-lo na mesma hora.
Escrevo minhas percepções a seguir sem ter pesquisado sobre as intenções de Charles Mingus aos escrever essas músicas ou os termos usados pela crítica para classificar o álbum, assim não quero correr o risco de me passar por entendido. The Black Saint and The Sinner Lady foi o álbum que me apresentou o jazz. São pouco mais de 39 minutos de música, distribuídos em 4 faixas que se completam sem que o ouvinte perceba onde acabam e onde terminam.
Foi em Solo Dancer, a primeira do disco, que tudo começou. A bateria e o baixo convidam os metais para um prelúdio suave, como um dia quente ameaçando tempestade. Minha atenção já não estava mais dividida com o trabalho e agora era toda da arte que acontecia em meus ouvidos. Uma valsa irrompe em sons de trompete, saxofone, trombone e tuba, uma oposição de notas que lembra o ritmo do mar indo e vindo, a respiração de alguém que dorme com a mente agitada, ou a violência do vento jogando as folhas de uma árvore para um lado e para o outro. Essa é a espinha dorsal da música que vai até o fim de Duet Solo Dancers, segunda faixa, sobre a qual os solos brincam e o ritmo aumenta, diminui, quebra. Como em uma ópera, uma história se passa diante dos meus olhos fechados, uma trama urbana, melancólica, como Taxi Driver, mas com o clima dos clubes de jazz da Nova York dos anos 1960.
Group Dancers é a minha preferida. Começa com a leveza do piano até explodir na melodia que acompanhará o ouvinte até o final de Trio and Group Dancers, a última do disco. Então volta para o piano e as linhas de trompete, até ser interrompida por um violão de sonoridade flamenca, que antecede solos ácidos sobre baixo e bateria acelerados. Juntas as duas faixas duram mais de 25 minutos, que passam sem esforço e deixam um vazio após a última nota ser tocada.
Os puritanos que me perdoem, mas o jazz de The Black Saint and The Sinner Lady é um som tão de rua quanto o mais gangsta dos raps. Quem inventou essa barreira entre o jazz e as pessoas comuns? Mais tarde li que Mingus usou sua arte para protestar contra a segregação racial que oprimia seu povo naquela época, e que esse disco também era fruto desse sentimento e dessa luta. Não é bem o tipo de música que deveria ficar restrita aos bares de Moema que servem doses caras de whisky importado. O som de Mingus tem o clima da madrugada, da melancolia das esquinas, da volta pra casa dos que sofrem. Pelo poder da trilha sonora, ajuda o ouvinte a enxergar de fora a sua própria vida como se fosse um filme.
Ao mesmo tempo é um som sofisticado, detalhista e visceral, de uma forma que meus ouvidos nunca mais foram os mesmos. Depois desse disco, ouvir os velhos discos de sempre foi diferente. Algo em mim agora pedia por uma viagem musical mais intensa e compreendia melhor a arte dos grandes músicos e arranjadores. Sobre o jazz, continuo entendendo tanto quanto qualquer pessoa que não conheça nada sobre o gênero, mas sinto um profundo desejo de ouvir mais e mais discos. Aqueles que trouxerem experiências tão fortes quanto as descritas acima, serão o combustível para os próximos textos desta série. Uma certeza, porém, eu tenho: o jazz é para todos e pode conduzir o ouvinte por viagens únicas. Convido o leitor, seja qual for seu gosto musical, a se aventurar junto comigo por esse universo.
Escute The Black Saint and The Sinner Lady, de Charles Mingus:
0:00 Solo Dancer
6:40 Duet Solo Dancers
13:23 Group Dancers
20:45 Trio and Group Dancers
Ficha técnica
Charles Mingus – baixo, piano, compitor
Jerome Richardson – saxofone soprano e barítono, flauta
Charlie Mariano – saxofone alto
Dick Hafer – saxofone alto, flauta
Rolf Ericson – trompete
Richard Williams – trompete
Quentin Jackson – trombone
Don Butterfield – tuba, trombone contrabaixo
Jaki Byard – piano
Jay Berliner – violão
Dannie Richmond – bateria
[popup_anything id="11217"]