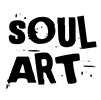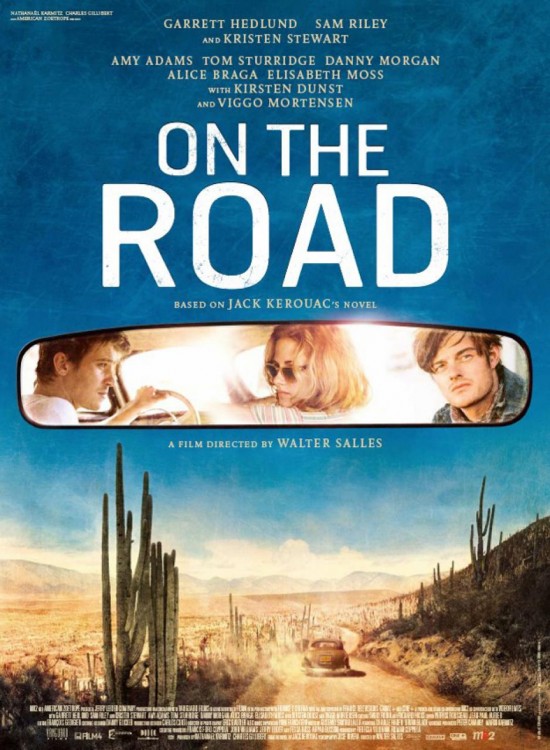[Nova York, final dos anos 40. Na Estrada conta a história do jovem escritor Sal Paradise (Sam Riley), cuja vida é sacudida e inteiramente transformada pela chegada de Dean Moriarty (Garrett Hedlund), um jovem libertário e contagiante, recém-chegado do Oeste com sua esposa de 16 anos, Marylou (Kristen Stewart). Juntos, Sal e Dean cruzam os Estados Unidos em busca da última fronteira americana e à procura de si mesmos. Na viagem, ultrapassam os limites da velocidade, do desejos e das sensações. Ritmado por sexo, drogas e jazz, o filme é baseado em On the Road, o romance cult de Jack Kerouac que lançou as bases da geração Beat. Na Estrada também narra a história de um bando de jovens extraordinários, Bull (Viggo Mortensen), Camille (Kirsten Dunst), Carlo (Tom Sturridge) e Jane (Amy Adams), que buscam se libertar do dito conformismo conservador de sua época para seguir caminhos próprios, uma obra que impactou gerações até os dias de hoje.]
O diretor brasileiro Walter Salles gosta de filmes de estrada (vide Terra Estrangeira, Central do Brasil e Diários de motocicleta), por isso não espanta que tenha dado cabo de filmar o pai de todo road movie, On the Road de Jack Kerouac. A fotografia de grande beleza, a trilha emanando jazz e a interpretação intensa e bela de um elenco jovem e estelar, tudo está lá para levar o público ao arrebatamento. Mas não arrebata.
Não arrebata a mim, pelo menos. Não sei por quê. E não é por não reconhecer a fidelidade do livro no filme, que isso é coisa de quem não sabe que cada Arte tem sua gramática, sua linguagem específica. E o livro perdeu-se na minha memória de há séculos. Literatura são palavras no papel unida à mente na construção de espaços, rostos, imagens e ação. O cinema irá nos dá-las prontas, segundo a visão de outro, no ritmo do outro, dentro de uma temporalidade limitada a preservar aqui e ali algumas palavras. Por isso a questão é saber se o filme se sustenta, tem autonomia como obra de arte. Se eu precisar ler o livro para entender o filme, então seu diretor terá falhado. Não é o caso. Na estrada se sustenta, o que não significa que traga em essência o que Kerouac desejou.
E o Na Estrada de Walter Salles é um bom filme, mas não me convence. Não “chegou lá”, ficou, como posso dizer, a caminho.
Especulo: embora encene paixão, não vejo paixão no que assisti. Sinto o empenho dos atores, no esmero da performance e do ser (dar alma aquelas criaturas do livro), mas postos análise, parece que não integram o conjunto, como peças perfeitas postas numa engrenagem, mas que giram autônomas, não integradas. Não sei se posso atribuir isso ao diretor, talvez deva. Acho que Walter Salles perdeu certa paixão que tinha ganhado, hoje é um diretor técnico, tudo parece demasiadamente marcado. Não é errado que seja assim. Cinema é artifício. Mas que, como espectador, percebamos (até intuitivamente) o movimento do maquinismo. É um daqueles que “reencenam” o improvisado, por que a luz não atingiu o ponto certo. Odiei o pouco tesão com que filma os desejos, os corpos do elenco que está no ápice da beleza/exuberância, dando-nos pudicas frestinhas, cortando-os mesmo em cenas de dança num plano americano que cerceia movimentos. Será que ele nunca assistiu Almodóvar?
Kristen Stewart faz o seu melhor papel numa Marylou sensual, lasciva, entregue. Garrett Hedlund tem a melhor voz, mas seu sex appeal (essencialmente a força atrativa de Moriarty) é preterido em nome de perscrutração psicológica contraproducente. Sal Paradise é um clone do Leonardo Dicaprio (mais jovem e moreno) que não consegue dar curva evolutiva num personagem que testemunha e vivencia o pé na estrada. Kirsten Dunst é competente, mas não tem tempo para fazer nada com sua personagem. Alice Braga é uma coadjuvante competente.
Há no filme muita paisagem, muito horizonte, sem nunca chegar realmente ao dentro, ao íntimo. Leu sem penetrar as entrelinhas a estratégia esperta de Kerouac, que aproximando o romance da biografia conferia-lhe a pulsação da “vida verdadeira”, fazendo-se personagem, símile de si. Salles pegou o acessório, e converteu On the Road num filme sobre um escritor que se joga na estrada só por precisar de inspiração e não por ter esse ímpeto dentro de si. Do mesmo modo, sua amizade parece pautada por uma questão utilitária: ter à mão bons personagens com que escrever (em determinado momento, alguém pergunta a Paradise onde ele encontra gente tão extraordinária).
Aquele ir e vir da máquina ajuda a intensificar no filme, a impressão deste viver para ter que reproduzir. Acho que essa estratégia contribui para afastar o envolvimento do espectador, já que o olhar analítico do escritor isola e tenta catalogar os personagens, procedimento que a câmera de Salles emula.
Meros personagens-joguetes, seus afetos não convencem, ainda mais por que cada um deles segue numa obsessão narcísica por viver intensamente, ora dependentes ora satélites do porra louca e autodestrutivo Dean Moriarty. Se posso me lembrar, não era esse tom que pautava o romance, mas fascínio pelo que Moriarty tinha de inapreensível, pulsante, caótico, impulsivo, descomedido e sedutor; ou seja: dionisíaco. On the Road é muito mais sobre o fascínio a Moriarty, espantoso até por sua indiferença em relação ao outro, em tudo parecido com a força da natureza, já que um tornado não sabe/e está alheio aos danos que irá causar no mundo e a terceiros. Assustador e apaixonante como um raio que desce fagulhando do céu, que só pode existir por pulsações, com intensidade, com risco de perder as forças. Onde isso no Na Estrada?
O filme de Salles tem sexo, mas falta tesão. Tem energia, mas lhe falta vida. Tem movimento, mas lhe falta ação. É portanto mais um filme de falta que excesso, e que paradoxalmente, quer falar sobre o desejo de exceder o prosaico da vida. Embora trate de liberdade (do corpo, do espírito, dos dogmas) o filme segue linear, quadrado, didático, e peca por não querer “fascinar” o espectador com a entrega visceral daqueles garotos e garotas à vida, até porque nega o outro lado, não nos da nem por um segundo o tom repressor do entorno, atenuando a transgressão, e conferindo certo “infantilismo” às suas ações. Terminamos o filme sem que estejamos fascinados pelos personagens, sem querer ser como eles, sem querer pôr o pé na estrada, já que aquele plano final do Moriarty sozinho, bodeado, que a câmera afasta e se distancia relegando à escura solidão, parece mais um alerta contra o desejo de ir ao mundo.
A história que Salles tinha na mão tinha enorme poder, já que trata de algo atemporal: a energia vital que faz com que jovens de todos os tempos se apartem de seus pais, deixem o conforto/segurança da casa/do conhecido e queiram ir ao mundo dar a cara para bater. É uma energia que principia na libido, e vira pulsão que leva ao desejo pelo outro, pelo sexo, na exploração daquilo que até então era o desconhecido e que revela ao menino(a) seu lado instintivo, carne tátil penetrante e penetrável. O sexo é o grande saber que nos obriga a olhar para nós e para o nosso desejo e nos confere, também, uma identidade. Ele é tão subversivo que até hoje está cercado de mil tabus, dogmas, religiões, leis, repressões várias. Sexo atenta violentamente ao pudor, que é a Lei. Dessa força, no filme, explodem todas as demais, da bissexualidade do protagonista e ambígua relação com os amigos à voracidade ninfomaníaca de Marylou. Fugas, raptos, anulação de casamento, menages, surubas homéricas, os pequenos furtos, tudo regado à música e drogas, tudo instrumentos de subversão das regras, de testar os limites socialmente impostos. Há claro, boa dose de autodestruição, mas que nesta força chamada juventude, traduz a sanha de conhecer o mundo e neste processo o nirvana do autoconhecimento.
No filme da Walter Salles estamos sempre à beira da estrada, e nos excita menos do que qualquer pornô de camelô. Somos hoje espectadores cínicos vendo este mundo de uma sala confortável de shopping. Essa estrada é uma hipótese apenas contemplável e um tanto aflitiva. Os beatniks e hippies estão mortos, e a viagem agora é virtual, quando não outra, ainda que química, muito mais para dentro do que para fora de si. Não falo do ecstasy, mas daquelas substâncias oficialmente aceitas e que desaceleram hoje até a vitalidade das crianças. É triste que o filme não consiga dizer o quanto é foda ser livre para fazer o uso do corpo também para o gozo não santo; para se reconhecer a hipocrisia moral e conservadora, para construir novos caminhos. Ainda que no final de tudo, mais velhos, venhamos a desembocar no seguro conforto da família, da crença e da lei, um filme tão esperado tinha que ao menos acender a centelha de que a vida não tem que ser tão calculada e pré-formatada desde de sempre, que podemos – sempre que corajosos – reinventá-la com paixão.
[popup_anything id="11217"]