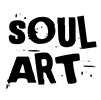Fotografia crua, tencionando um realismo palpável. Um carro chega, entre árvores, em frente a uma casa. Interior, possivelmente. A família desce, tiram as malas do carro, os filhos entram; enquanto se aconchegam, um homem aparece de outro cômodo. Uma arma na mão. O silêncio, desesperado, sufocante. Atrás do homem armado, uma mulher com bebê no colo e outro menino pequeno. Os filhos saem. Uma tentativa de diálogo. Uma conversa sobre os suprimentos trazidos no carro. Um tiro. Gritos. E é assim, seco, distante, e cheio de questões que Le Temps Du Loup se inicia.
A trama indica um tempo pós-apocalíptico, sem nunca se atrever a perguntar/responder o que aconteceu. Nesse cenário, a mãe e os dois filhos entram numa jornada de sobrevivência e descoberta. Mas não se deixe enganar por esses termos, pois em Le Temps Du Loup não há redenção e reviravoltas, somente a esperança de que um dia um comboio venha. Enquanto isso, um cigarro, um rádio de pilhas, alguém que toque violão e cante o que puder. E uma crença semirreligiosa, para firmar a possibilidade de um amanhã.
Talvez a intenção de Michael Haneke seja explorar as essências do comportamento em sociedade, e por isso considero esse um dos trabalhos mais sensíveis do diretor, embora esteja longe de ser um de seus melhores. Ao retirar o valor de grande parte das coisas materiais, relegando às coisas mais simples (água, comida, lugar para dormir) valores relevantes, resta às relações interpessoais o grau de maior importância numa sociedade que se deseja ordenada e justa. Uma conclusão deveras simples, mas é com um tratamento cuidadoso que Haneke lança seu olhar sobre essa observação.
O silêncio é aterrador, e a fala, muitas vezes, não alcança aquilo que tencionava. Seja numa discussão, no estupro abafado, na garota anunciada morta pelo grito da mãe, a possibilidade de ajuste entre as pessoas se mostra irrealizável, já que interesses e sentimentos pessoais se sobrepõem a uma resolução ideal. No entanto, é no contraponto dessas representações que o filme ganha sua força. É na inocência da infância que, silenciosa, quer acreditar e se sacrificar.
Na figura da irmã mais velha, há a generosidade acolhedora e a imensa maturidade evidenciada na carta ao pai, já morto. Carta que também quebra o sigilo emocional, que até então era puro silêncio na figura dos dois irmãos. Benny, o mais novo, desde o início tão impressionado, calado e jogado contra a parede, é aquele que se dá ao fogo, que oferece a vida na crença obstinada de que salvará a todos, num fim que é clímax sem oferecer resolução, só a esperança. Afinal, talvez só precisemos disso. E talvez os mortos voltem a viver.
[popup_anything id="11217"]