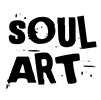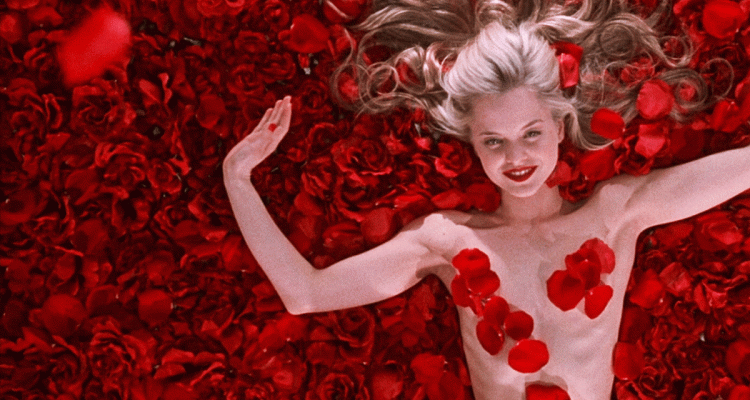Há vinte anos, Sam Mendes estreava com o longa Beleza Americana, invadindo a casa e revirando os móveis da família de classe média estadunidense. Hoje, vinte anos depois, os EUA de Donald Trump estão cada vez mais parecidos com o pequeno universo de Lester; e nós, cada vez mais parecidos com eles.
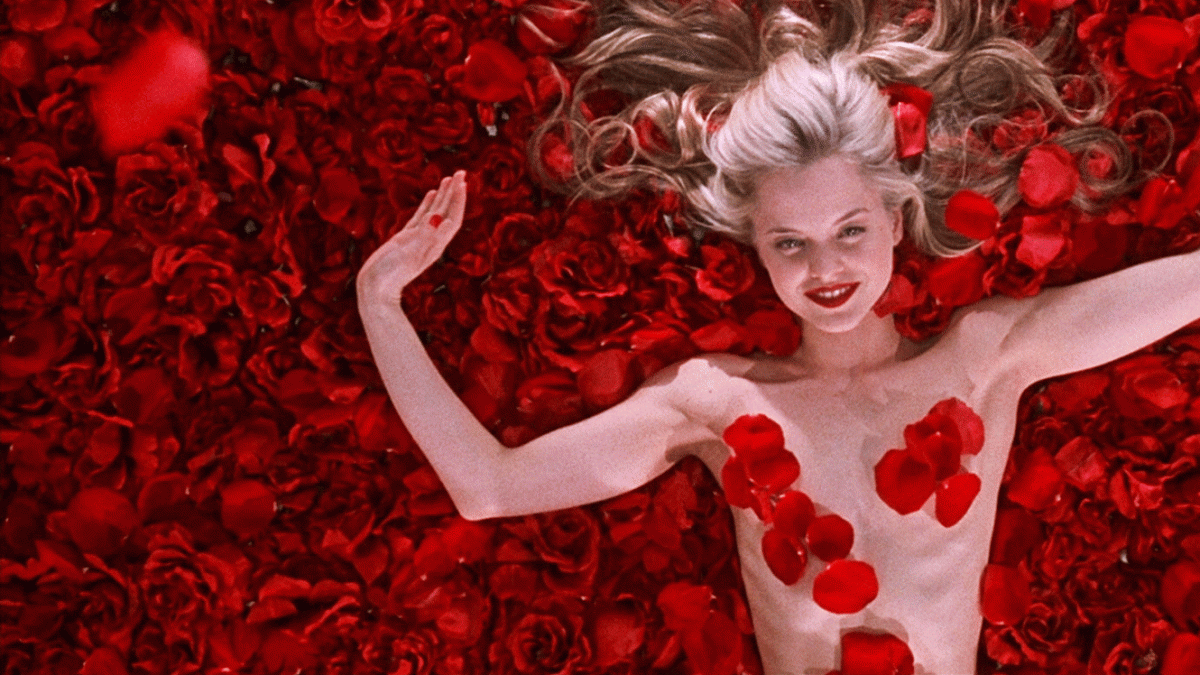
Cena de “American Beauty” (1999)
[dropcap size=big]A[/dropcap] obra é um confronto direto com os aspectos humanos mais sórdidos, e o pior, naturalizados. Revela a verdadeira face do chamado “Sonho Americano” e dos seus valores cultivados, um funil por onde entram as contradições de uma sociedade doente e deságua em carácteres corrompidos, aspirações frustradas, obsessão por uma vida de aparências, fantasias sexuais perturbadoras e violência como fetiche.
Depois de uma vida inteira de subserviência e mediocridade, Lester Burnham, aos 42 anos, se apaixona pela amiga de sua filha colegial, repito: COLEGIAL. Esta paixão vai encaminhar Lester a uma jornada de violações da vida que se submeteu para se adequar, esta jornada, no entanto, está longe de ser uma geração de consciência da sua condição humana para a libertação de uma vida medíocre, pelo contrário, se limita a um retorno sórdido à uma inconsequência juvenil, saindo do emprego em uma revista para trabalhar em um Fast-food, abandonando o casamento para voltar a fumar maconha e flertar com a bela e fútil amiga da filha.

Kevin Spacey, primeira escolha do diretor Sam Mendes para viver Lester Burnham
Para muitos críticos da época e de hoje também, a jornada de Lester contra os padrões sociais é heroica e triunfante, mas na realidade é trágica, não só pela morte do personagem central anunciada por ele próprio na primeira sequência do filme, mas pela sua derrocada nesta jornada. Lester não eleva o seu nível de consciência, a sua visão sobre as contradições em que está imerso é parcial e superficial, as suas investidas de revolta são, às vezes, até simpáticas ao público, mas nunca empáticas ao outro personagem. Ou seja, é uma corrida em volta do rabo da individualidade patológica que acomete quase todos, e que caracterizaria uma perspectiva extremamente pessimista do filme em relação ao drama estadunidense.
A decadência não está apenas no protagonista: todos os personagens da trama são canalhas a sua maneira, todos estão em uma espécie de luta para serem extraordinários, mesmo que isto implique em um jogo desajustado, decadente e falso. Os personagens projetam as personas ideais e realizadas que almejam ser e moldam as suas características a esta forma idealizada, suas jornadas consistem em manter estas máscaras como objetivo único da vida, uma vez que todas as suas aspirações e sonhos já foram irreversivelmente frustrados.

O Coronel Fitz, talvez a jornada mais sutil e mais complexa, revela a hipocrisia que envolve o debate sobre sexualidade e a sua incorporação a violência como fetiche, por exemplo, na obsessão por armas e objetos nazistas, e assim acontece com todos os outros personagens em maior ou menor grau de hipocrisia. A trama vai se desenlaçando com uma queda trágica e apocalíptica das máscaras, revelando, mais uma vez, o funil social da decadência estadunidense corrompendo a vida de maneira totalizante, desde a convivência em sociedade até as dimensões mais humanas e individuais. Os personagens são, ao mesmo tempo que canalhas, vitimas de uma silenciosa máquina de frustração que é a mentirosa e inatingível farsa americana.
Com o parêntese para o formato mais longo, o filme em seu aspecto formal não foge muito da tradição hollywoodiana e, apesar de muito bem feito, não se arrisca em inovações de linguagem em nenhum aspecto, talvez a direção de arte apareça mais ousada, mas não foge muito do óbvio. Outra concessão que o filme faz à indústria ideológica é o desfecho romantizado da trama, já pontuada pelo crítico Pablo Villaça em sua coluna sobre a estreia do filme no Brasil a 20 anos atrás. O abraço de Carolyn nas roupas do marido morto depõe contra todo o vigor com o qual o filme critica o pacto de hipocrisia do estilo de vida americano a ponto de quase prostituir a obra, mas não consegue.
Beleza Americana é, sem nenhuma dúvida, uma das grandes obras cinematográficas realizadas nos últimos anos e pode fazer mais sentido para os brasileiros agora, vinte anos depois do seu lançamento, ou ao menos ganhar mais algumas camadas de interpretação. O fantasma do imperialismo cultural agora parece real, a impressão ao rever a obra é de que o Brasil faz um movimento de aproximação brusca em direção a Lester Burnham e a sua vizinhança.
O personagem que antes era uma alegoria dos dramas universais do mundo ocidental capitalista materializados pelo patriarca americano de meia idade, é agora o nosso reflexo no espelho; Angela é a nossa juventude obcecada por likes e violada pelos padrões de beleza do corpo e contraditoriamente pelos tabus do sexualidade; Carolyn é a mãe de família frustrada em todos os níveis possíveis da realização pessoal; Jane e Ricky são os nossos desajustados onde ainda pode haver alguma esperança e Colonel Fitz é o militar da reserva que esconde na obsessão por armas, no ódio e na violência gratuita a sua profunda crise com a sexualidade mal resolvida. Cuidado, ele está mais próximo do que pensamos.
CONFIRA AO TRAILER DE “BELEZA AMERICANA” (1999)
[popup_anything id="11217"]