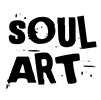Recife, onde o Cinema Brasileiro foi morar, manda este filme extraordinário para São Paulo. Está finalmente em cartaz no Itaú (da r. Augusta), no Shopping Frei Caneca e na Reserva Cultural (na av. Paulista). Duas narrativas se entrecruzam: 1 – a história de amor entre um ator/diretor de teatro Clécio Wanderley (Irandhir Santos) e um soldado ainda adolescente (Jesuíta Barbosa); 2 – a história do Chão de Estrelas, um grupo/teatro que no Recife dos anos de chumbo da ditadura cria espetáculos transgressões, com travestismo, nudez e iluminados discursos intelectuais de resistência (da arte) e libertação (à opressão do regime, dos costumes e das ideias).
Tatuagem vai ao teatro para mostrar o cinema e põe no centro o gueto, afastando-se da estética e da televisão – onde atores replicam cacoetes de interpretação, num realismo constrangedor de reclame publicitário. Um Brasil que não se mostra ao grande público, e por isso é perseguido: pela sua potência libertária, subversiva.
O filme de Hilton Lacerda afronta a tudo de banal, mastigado, diluído e insosso que se produz aqui embaixo. Uns vão associá-lo a Febre do rato, mas é a sua versão em cores – se não, reversa – dando-se ao direito de encantar, de colorir a vida, todo embriagado que está de nostalgia.
Penso nos olhos lacrimosos de Ismail Xavier vendo-o (como confirmação e estertor de uma potência que em cinema parecia perdida), num constrangido Caetano domado por um Procure Saber. Pois o filme de Hilton Lacerda olha para trás para dar um passo adiante. O que está atrás é a história de gente que entregou-se à utopia de realizar Arte num país fechado, tacanho, reacionário. E no filme, lindamente se debate a “função” deste artista para o qual não há “o baixo entretenimento” ou “o alto intelectual”, tudo se mistura, se contamina, na construção de algo que não se “vende como produto”, mas como arte de gozo, desfrute, libertação. Não há fronteira entre palco e vida, ambas mesclam-se, contaminam, implodem na cena.
Tatuagem estabelece um diálogo explicito com o Cinema Novo (que está lá atrás, e que é matriz, pois está obviamente muito adiante do que está sendo feito). Parodicamente, um falso Glauber e uma falsa Glauce/Gláucia aparecem na plateia do espetáculo. Mas muitas são as referências que se sobrepõem: a vida em comunidade (à la Novos Baianos), o papo-cabeça dos intelectuais de esquerda, a mistura tropicalista. Principalmente, por focar o “teatro”, está dionisiacamente projetado no protagonista, a figura de Zé Celso, fazendo com que possamos ver no Chão de Estrelas o sol do Teatro Oficina. Está ali também Dzi Croquettes, a produção marginal da Boca do Lixo, e está tudo de melhor que anda vindo de pernambuco.
Olhar amorosamente o passado, como o filme faz, é também uma fora de mirar o atraso do presente. Está uma resposta à cura gay e aos evangelismos de TV, radiotransmissão – que anda parindo bebês anencéfalos. Estão os milicos travados, as travecas expansivas girando parangolés de toalha de mesa. Tudo parece precário, desde a abertura, tudo cheira e se permite transformar em outro. E como já nos tinha ensinado Hilda Hilst (e intuído Clarice, em sua Via Crucis do corpo), o sexo e não a ascese, leva à transcendência.
Os astros não estão no alto, no céu, mas no chão. Numa cena já antológica, descem no palco dois atores travestidos de Sol e Lua, eclipsando-se jocosamente, à maneira dos cirquinhos do interior, daquelas alegorias herdadas de Gil Vicente, das zarzuelas galego-portuguesas. Tudo é precário, pouco. Tudo é tanto, que excede.
As novas configurações de família, a maconha, a recepção da imprensa, o confronto com o poder, o desbunde, o intelectuais cheios de ideias fora de lugar. Cabe tudo, cabe até o cu e Kubrick, ambos proibidos por uma ditadura que recusa a ver. Estão as cores berrantes de Oiticica, a alegria das fossas do rádio, Dolores Duran, Caetano cantando Chico (na música “Esse cara“) e a roda viva espancada de Chico. Tatuagem.
Recife faz hoje um cinema de resistência, contra a glob(o)alização do cinema nacional, cuja produção se resume a minisséries condensadas, comédias pobres de divertimento banal (também em parceria com seus atores mais populares, e com pouco ou nada a dizer). Já tinha adorado O som ao redor, que tem uma inteligência que se opõe ao sadismo com que Cláudio de Assis (no meu ponto de vista) trata de modo recorrente muito dos seus personagens. Hilton Lacerda, seu roteirista/colaborador recorrente, parece ter se limpado do cinismo e acrescentado alegria à equação.
Por sua visão amorosa – de um passado nada idílico -, compõe uma Tatuagem que é um filme ao mesmo tempo nostálgico e festivo, além de profundamente emocionante. Festejemos.
Fotos: Flávio Gusmão / Divulgação
[popup_anything id="11217"]