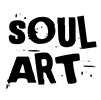O conceito de gênio criativo não é mais atual na literatura há pelo menos 200 anos. No entanto, a ideia ainda permanece na cabeça de muitos críticos. Essa maneira religiosa de enxergá-los talvez seja uma das maiores barreiras para o surgimento de novos escritores, pois os afasta do mundo real, como se fossem portadores de um dom restrito, que os acomete em momentos de inspiração para compor suas obras. Na prática, o procedimento de criação literária é laborioso, doloroso e suado, se parecendo muito mais com o lapidar de um diamante bruto do que com a psicografia.

Foto | Pedro Garrido/CLAUDIA
CRÍTICA À CRÍTICA
[dropcap size=big]N[/dropcap]esse caso, temos duas maneiras de enxergar o autor de “O sol na Cabeça”, Geovani Martins. A crítica, de maneira geral, tem optado por fazer o papel de colocá-lo no posto de gênio, estabelecendo parâmetros no mínimo desleais com o jovem escritor. “O novo Guimarães Rosa”, “James Joyce da periferia” e por aí vai. Outra maneira é vê-lo como autor em construção, em desenvolvimento, um jovem escritor sem formação acadêmica publicando a sua primeira obra.
Ao optar pela primeira perspectiva, a crítica atira pela culatra: se a intenção é elogiá-lo, falha redondamente. A obra é, com toda certeza, algo no mínimo inquietante, diferente e acima da média do que se tem publicado no Brasil nos últimos anos, mas comparado a Joyce e Guimarães Rosa, os contos se apequenam a ponto de quase desaparecerem.
Ao ler o livro pela primeira vez, eu fiquei absolutamente frustrado e isso não é culpa do autor, mas sim da crítica, que o colocou no panteão dos seus cânones antepassados nacionais e internacionais. Se o tivesse lido sem a expectativa que criei a partir da crítica, a visão sobre o livro seria completamente outra e o parâmetro para compará-lo também. Percebendo a armadilha em que caí, parti para a segunda leitura, na tentativa de tentar ser mais sóbrio, imparcial e menos empolgado.
VAMOS À OBRA

Foto | Reprodução/Internet
O livro inicia com o conto Rolézim, o melhor deles, no qual as questões do narrador estão colocadas com precisão. Sua temática central é a violência e o seu espaço é o Rio de Janeiro, a estrutura do conto encontra um caminho razoável e bem delineado, o que dá uma certa tensão à trama e valoriza a imprevisibilidade dos acontecimentos. Os personagens são planos, sem muitas complexidades psicológicas, portanto, o ponto forte do texto é o aspecto social, e isso faz muito bem, imprime as desigualdades e é, em um determinado aspecto, inovador. Quando revela essas contradições sociais sob o olhar do oprimido, o narrador agora é o “menó”, favelado que descreve a sua visão sobre a polícia, sobre os “playboy” da praia, sobre a cidade, sobre as inúmeras fronteiras entre o morro e o asfalto na cidade do Rio de Janeiro. Não é mais o narrador em terceira pessoa tendencioso pela culpa burguesa, nem o bom burguês altruísta, trata-se do personagem central, da trama real da vida, incorporado à ficção: trata-se da voz do favelado.
A expectativa é elevada a partir do primeiro conto, o que é um grande problema. Espiral e Roleta Russa têm uma coisa muito nobre, que é o mergulho ao universo psicológico dos personagens. Além disso, outra novidade boa é descrever como se dão os conflitos de ordem psicológica dentro de contos sobre violência e desigualdade social, pois foge do óbvio e quebra a expectativa. No entanto, se perde na estrutura, o que em geral acontece com os contos: são ideias muito boas, estórias com potencial, mas firmadas sobre uma estrutura narrativa muito frágil, com lapsos de literariedade pujante, alternando com momentos de repetição, exageros e clichês.
O caso da borboleta e A história do periquito e do macaco não são ruins e o livro vai entusiasmar um pouco depois, em Primeiro dia, onde o humor aparece bem. Em Estação Padre Miguel, também há bons momentos literários, mas a estória perde a força. Mistério da Vila, um dos contos mais elogiados pela crítica, é, na minha opinião, um dos mais fracos: os lapsos de literariedade já não aparecem com tanta frequência e a consistência da estória é muito frágil. Fica claro nesse conto que o narrador tem uma habilidade muito singular de tocar o público e trazê-lo para dentro deste cenário pitoresco do subúrbio, mas ainda precisa de mais conhecimento da estrutura da prosa, além de mais maturidade. Grosso modo, o que o livro me parece é um bom rascunho.
O autor tem uma intuição literária potente, sabe onde estão os ingredientes para uma boa prosa, sabe encontrar personagens, lugares e conflitos, porém o necessário é espremer mais, lapidar melhor esse grande esboço.

Foto | Reprodução/Internet
A linguagem do autor não é algo definido e acabado. É claro como a luz do dia que se trata de um escritor em desenvolvimento e amadurecimento. Logo, não é, como afirma João Moreira Sales, uma “nova linguagem”, como foi a de Riobaldo em Grande Sertão: Veredas, onde a sintaxe, o ritmo, a prosódia e os neologismos podiam ter aproximações com a fala do matuto, mas tinham gigantescas diferenças da estrutura até a superfície. No caso de O sol na cabeça, há uma tentativa de aproximar a língua escrita do dialeto falado pelos cariocas suburbanos, o que é um mérito, mas não é “criar uma linguagem nova” e mesmo nesse aspecto é possível encontrar problemas.
Existem exageros de gírias que causam problemas de verossimilhança com os personagens, o que pode passar despercebido ao leitor distante, mas é facilmente notado por quem tem familiaridade com o dialeto. De todo modo, a opção por essa linguagem é arriscada: fazer isso com precisão na escrita é o que difere um escritor de um contador de causos, e é algo feito com êxito em alguns momentos do livro e, em outros, nem tanto. Com mais empenho, o autor conseguirá fazer isso melhor nas próximas obras, porém não está definido se o que pretende é criar, de fato, uma linguagem nova, ou se aproximar do dialeto carioca suburbano.
POR ASSIM DIZER
O horizonte de expectativa criado pela crítica ao livro é, no mínimo, desonesto, até mesmo com o próprio autor. Talvez falte sobriedade aos críticos brasileiros, talvez o marasmo literário tenha feito com que os críticos se empolgassem um pouco. O Sol na Cabeça, de Geovani Martins, é um livro fraco, mas é preciso dizer: não há problema algum nisso, não precisamos colocar sobre um escritor estreante o peso de ser comparado a canônicos. O livro é superior ao que se tem lido atualmente e isso basta, nós precisamos ser honestos para reconhecer as limitações da obra e, ainda assim, dar uma chance ao escritor de melhorar, de se desenvolver, de emergir.
Não podemos sucumbir à falta de rigor crítico em nome de um desespero editorial pela venda, pois não é isso que irá vencer o marasmo que a literatura brasileira vive. É preciso desmistificar a ideia de “gênio criativo intocável e inspirado” e dar espaço ao escritor laborioso, que desenvolve a sua escrita, à medida que estuda, amplia o repertório, compreende melhor os artifícios da linguagem e da literatura; e, como acontece com todo mundo, erra. O tal fenômeno literário é um engodo, um mito, e de mito estamos fartos, Geovani Martins é um escritor estreante da vida real, onde é preciso muito mais do que publicidade para uma grande obra.
- Crítica de O sol na cabeça, livro de contos do estreante Geovani Martins, publicado em 2018 pela Companhia das Letras.
[popup_anything id="11217"]